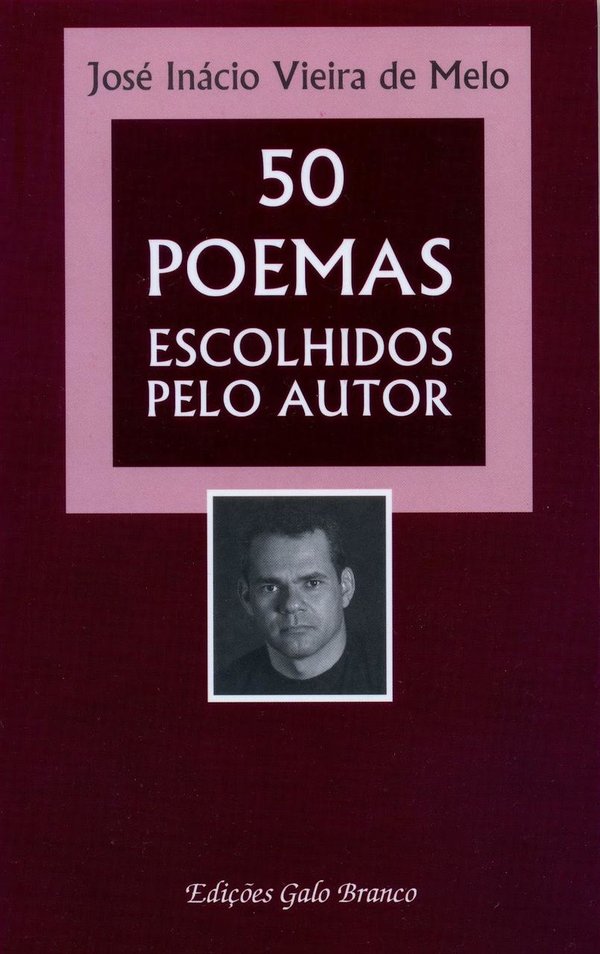
Por: Vilma Costa
O livro 50 poemas escolhidos pelo autor, de José Inácio Vieira de Melo, oferece múltiplas possibilidades de leitura. Neles encontramos mãos de trabalhador do verso, que cultiva uma terra árida, mas firme de se pisar. Na invenção dessa poética, algumas imagens se insinuam e buscam cúmplices ou simples interlocutores em leitores e amantes. O tom dos poemas tem um cunho clássico no que tange ao cuidado com a composição. Há certa cerimônia nas dedicatórias a amores, a amigos e na utilização das figuras míticas, tanto as greco-latinas quanto as cristãs. Por outro lado, utiliza-se como matéria-prima a simplicidade de um espaço cercado de signos de naturezas física e humana que dialogam entre si. O fazer poético é, como no poema Ciço Cerqueiro, uma tarefa clara e bem definida de alguém que persevera e faz desse trabalho uma profissão de fé: “O meu é fazer cerca:/ cavar buraco, aprumar mourão,/ esticar arame com pé-de-cabra,/ apregar grampo nas estacas”.
O processo se dá na tensão permanente de reunir elementos de uma natureza concreta, como as pedras do caminho, a rosa e seus símbolos de beleza, e a carne viva de um coração que pulsa, de um sangue que corre e se derrama sobre os espinhos que ferem. As cercas que se fincam tentam definir limites entre esse exterior, “lá longe”, em contrapartida com as “plagas interiores” do sujeito. São fronteiras porosas como a teia de uma aranha, como o tecido do texto que se tece. Nessa porosidade é que os dois lados se atravessam, permutam posições e se fundem, na maioria das vezes. Elementos concretos da natureza se entrelaçam, numa rede paradoxal, com a interioridade do eu lírico: “Meu coração é mesmo a rosa viva./ Por isso, cuidado ao pegar/ suas pétalas — pedras tão aflitas”. Ou seja, tanto as rosas quanto as pedras têm uma funcionalidade nessa teia que se constrói com cada verso. Não são, portanto, apenas adornos ou acasos. São fios de silêncios e zoadas internas, em labirinto, que inscrevem esse sujeito num universo de outra natureza: nem pedra nem sangue, a linguagem. É esta e as escolhas do poeta nesse campo que servem de mediadores entre este mundão e a “zoada” que o aflige. “Os livros já foram lidos e tudo já foi dito:/ resta o silêncio — este corvo doido, resta a folha de papel em branco/ urubuzando minhas dores,/ buscando meus anagramas”.
A linguagem, esse “registro da fala do silêncio”, de “um silêncio plural e de fogo”, é que desafia a folha em branco. Cada poema se basta pelo que foi fincado em seus buracos, pelos arames esticados em suas cercas, pelo que foi dito ou que ficou por dizer em palavras queimadas pelo silêncio “antes de serem”.
As imagens construídas nessa natureza de papel em branco, palavras e letras podem se confundir com a natureza concreta de um ambiente rural no qual se insere o poeta. E mesmo este poeta, pessoa física, com nome, sobrenome e identidade, pode se confundir com o sujeito inventado que se diz e se define na folha de papel com seus versos. Mas não são os mesmos. Possuem diferentes naturezas, um é feito de carne e osso, o outro, de signos, sonhos e palavras. Dialogam entre si, encontram-se, escondem-se um do outro, um no outro, perdem-se, inventam-se. A invenção do eu múltiplo se desdobra em um tu que não promete nada, mas se afirma como veículo de interlocução e esperança de encontro, quase comunhão. No poema Estrangeiro, por exemplo, o “tu” chega com seus espelhos, com sua bússola indicando o norte, mas o eu narcísico não se reconhece: “Agora, ao me olhar no espelho, não vejo/ nem o vulto do meu rio liberto.// Perambulo sem ter rumo certo:/ estrangeiro, de mim tão disperso”. A dispersão e o sentimento de estar perdido, ou se perdendo, são correlatos à escrita em labirinto que percorre muitos dos poemas. Um sujeito que se define como filho do sol e cavaleiro de fogo se reparte em chamas, mergulha em seus vazios e busca o amor em seres vestidos de água.
Natureza rural e o Cosmo são modelados pelas mãos que pintam nessa folha: “Escuto o alarido dos pássaros do Sertão./ Debruço-me no ninho do Cosmo. Minhas mãos trabalham no vazio./… Dos meus dedos explodem labirintos”. O corpo talvez seja o elemento unificador dessas naturezas tão diversas. As mãos que compõem os versos são de um corpo que borda o corpo do texto, na concretude das palavras e na incorporalidade de seus signos e sentidos. O corpo do sujeito inventado se desdobra na interlocução com o outro, pela linguagem verbal, pela linguagem gestual e sensual. As amadas e o próprio amor (muitas vezes ama-se mais o ato de amar do que o próprio ser amado) são elementos líricos que povoam essa poética. O encontro se dá através do impulso erótico do mito, que é mais amplo que a busca sexual, apesar de incluí-la como natural e importante. Trata-se de uma busca de completude que nunca se realiza, ou seja, quando se realiza anuncia a única completude plenamente possível e definitiva: a morte. “Esse teu brilho de agora,/ são cacos — rastros errantes/ que persistem na busca inútil/ da tua primeira semente”. Busca inútil, mas persistente da semente de uma origem que se desloca no tempo e no espaço. Um tempo que engole os dias e dispensa calendário, pois se constitui da fé na circularidade mítica. Um espaço físico concreto de um sertão nordestino que deságua no Cosmo indefinido e generalizado de um universo simbólico.
Apesar da predominância do eu lírico como elemento aglutinador de tantos sentidos, sua construção acontece em alguns momentos através de vozes que se multiplicam recolhendo fragmentos da memória e da vivência presentificada. “Ouço vozes — muitas vozes —/ dentro de mim mesmo,/ todas dizem que é preciso prosseguir”. Não é propriamente o que se poderia chamar da polifonia definida por Mikhail Bakhtin, já que todas parecem depender desse sujeito, e dentro dele se aglutinam. Com todas as suas contradições, impulsionam-no a prosseguir num eterno retorno. Como leitores, somos convidados a participar da teimosia do poeta. Como diria João Cabral de Melo Neto, em sua Psicologia da composição: “Cultivar o deserto/ como um pomar as avessas”. Eis a tarefa.
“Parto para o princípio do labirinto”, num princípio que não é, necessariamente, um começo, mas um caminho sinuoso a percorrer ou ainda, muitos deles, para se perder na lógica de labirintos. Não há início, meio e fim. Cantar o “ciclo da origem” ao “som do coro das sereias” é um convite sedutor e cheio de perigos, mas que o poeta, através de um sujeito lírico audacioso, aventura-se e corre todos os riscos. O ciclo da origem, pelo princípio do labirinto, não é fixo, ou seja, não oferece certezas. Se há um partir, não há exatamente um chegar. A busca é um “parto”, renascer a cada tentativa é o desafio.
Vilma Costa - É professora de literatura. Vive no Rio de Janeiro (RJ).
Fonte: Rascunho
